Por dentro da Comissão Nacional da Verdade

O início do outono, no que deveria trazer de bucólico, tem sido, ao contrário, palco, nos últimos anos, para exaltações ao 31 de março de 1964, data que marca o aniversário de uma série de eventos que culminaram com o golpe militar fomentado pelo Exército, por parte da sociedade civil brasileira e apoiado pelos EUA, para conter o que aludiam como “ameaça comunista” instituindo uma longa noite de 21 anos de Ditadura Militar, no país.
Essa época tem sido eufemisticamente chamada por revisionistas históricos ligados a articulações de extrema direita de “revolução” ou “movimento” e elevada por atos comemorativos que normalizam ideias fascistas e totalitárias.
Não há o que comemorar numa Ditadura Militar, período de exceção na História do Brasil sob liderança autoritária, com a dissolução das instituições democráticas, cerceamento das liberdades e que comprovadamente utilizou de expedientes de perseguição, tortura e eliminação de seus opositores, se valendo do terror e da repressão como políticas de Estado.
Este março de 2021 não foi diferente. As tentativas de cooptação das Forças Armadas, por parte do atual presidente da República, por meio de simulações antidemocráticas, insuflando motins, discursos de acento terrorista e “quarteladas” para instrumentalizar reações às medidas de isolamento social e lockdown estabelecidas pelos governos estaduais para contenção da pandemia (às quais esse mesmo presidente se mostra contrário) foram flagrantes.
Movimentos para quebrar algo caro aos militares, que é a noção de hierarquia e disciplina, pretendendo que o Exército seja uma espécie de guarda pretoriana a executar os seus desejos, culminaram na crise que provocou a exoneração do Ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva e a saída dos comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica, esses últimos como ação interna de preservação institucional da cúpula militar.

“É preciso dizer que Jair Bolsonaro foi um militar medíocre. Chegou a capitão e foi expulso do Exército por má conduta, por tentativa de rebelião e desrespeito à hierarquia. Sua plataforma é a destruição, inclusive do Exército que ele chama de seu, mas que rejeitou sua conduta inicial. Toda a sua trajetória é marcada por caos e embates”, diz a historiadora e professora universitária francana Maria Cecília de Oliveira Adão, de 43 anos, com mestrado e doutorado em História pela Unesp – Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Franca.
Seu doutorado pesquisou a dinâmica familiar que sustenta os ideais e comportamentos militares, com foco no papel decisivo da mulher na entidade “família militar”, sob o título “A Mudança da Tradição: Esposas, Comportamento e Forças Armadas (1964-1998), Unesp. Tal compreensão da funcionamento do processo de socialização militar, em conjunto com as pesquisas que já havia realizado no mestrado, a transformou em especialista no tema e a levou a ser selecionada para atuar como Pesquisadora Sênior na Comissão Nacional da Verdade (CNV/PR) e como consultora da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República – CEMDP/SDH/PR, instituídos para apurações dos crimes cometidos pelo Estado entre 1964-1985.
Nesta entrevista, Maria Cecília conta como se deu a sua experiência na pesquisa e elaboração do relatório final da CNV, em que o Estado reconheceu sua responsabilidade na morte e desaparecimento forçado de 434 brasileiros durante o período da Ditadura Militar.

Para ela, o retorno de militares ao Poder tem a ver com os desdobramentos dos fatos apurados pela Comissão Nacional da Verdade. “Para eles, a instituição da CNV foi um ato de revanchismo. Não desejavam que houvesse uma investigação sobre os crimes cometidos no período. Eles desejam que a sua narrativa sobre os fatos prevaleça, ou seja, a ideia falaciosa de que atuaram, durante a Ditadura, em defesa da democracia. Na Ordem do Dia, essa semana, o recém-empossado ministro da Defesa Braga Netto disse que o golpe de 64 deveria ser celebrado. Mas fato apurado por pesquisas sérias e relevantes, é que houve crimes, houve torturas e assassinatos. Quando o Estado faz alguém desaparecer, o que ocorre é uma grave violação de direitos humanos, praticada por meio de um Estado repressivo, que perpetua a violência por meio do medo, do terror. Foi o que aconteceu no Brasil até a redemocratização, em 1985 e que tem consequências percebidas ainda hoje. Como exemplo, até hoje as pessoas no Araguaia têm medo de falar sobre o assunto. O que vemos hoje, inclusive nos desenrolar desta semana, é uma disputa pela narrativa e memória histórica desses eventos”, explica.
Maria Cecília Adão detalha ainda como foi a experiência de fazer parte da Comissão Nacional da Verdade, com foco de pesquisa na Guerrilha do Araguaia, cujo relatório foi concluído em 2014 e paulatinamente silenciado pelo governo atual. Em sua plataforma eleitoral, o mandatário desta gestão federal nunca fez segredo da defesa da tortura e do extermínio, chegando a dizer, em escárnio sobre as expedições de busca por desaparecido na região do Araguaia, que “quem procura osso é cachorro”, num total desrespeito à memória e família dos mortos.
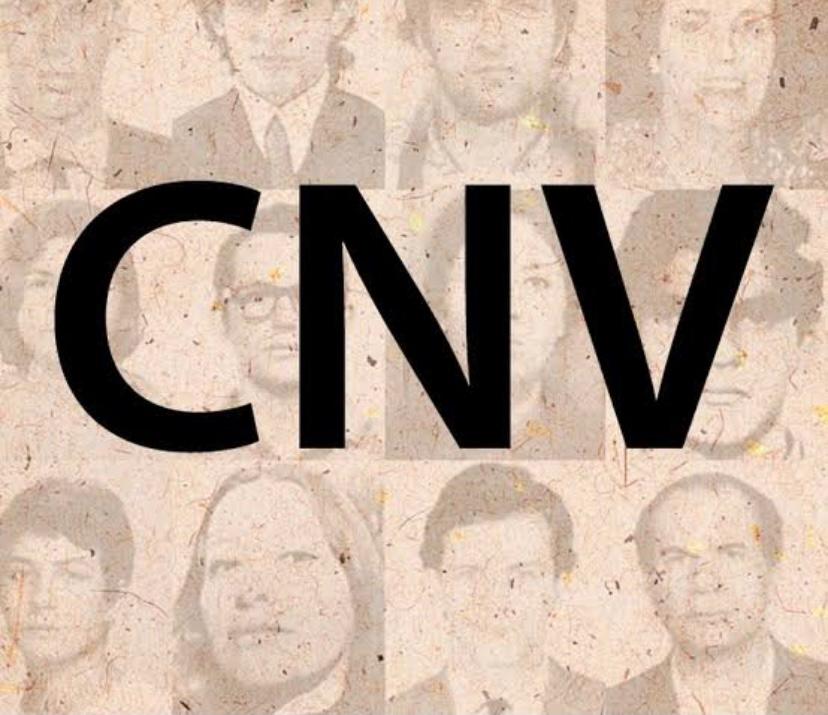
Folha de Franca – Conte como foi o seu percurso até chegar à Comissão Nacional da Verdade.
Maria Cecília Adão – Eu entrei no curso de História da Unesp/Franca em 1996 e logo no ano seguinte conheci, em um evento científico na cidade de Uberlândia, o assunto que viria a se tornar o meu primeiro tema de pesquisa: a participação de mulheres em grupos de esquerda que resistiram ao golpe civil-militar de 1964. Esse foi o tema do meu TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) e também do meu mestrado, concluído em 2002.
Daí, no doutorado, movida pelas reflexões anteriores, eu resolvi entender como eram percebidas as esposas dos militares dentro do espaço da caserna e essa ideia me levou a pesquisar as famílias militares e a contribuição fundamental das esposas para a carreira dos oficiais militares do Exército Brasileiro.
No ano de 2014, eu estava muito interessada em participar da Comissão Nacional da Verdade, que fora instituída em 2011 e instalada em 2012. Sendo assim, eu me candidatei para um processo seletivo realizado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em parceria com o governo brasileiro e fui selecionada para trabalhar na coordenação do grupo de pesquisa responsável pela temática da Guerrilha do Araguaia.
Folha de Franca – E lá chegando, como foi o seu trabalho?
Maria Cecília Adão – Trabalhei como co-coordenadora do Grupo Araguaia entre agosto e dezembro de 2014 e depois, até junho de 2015 coordenei a equipe que cuidou da organização do acervo de entrevistas, depoimentos e testemunhos produzidos pela CNV e que foi remetido, junto com o restante do acervo da Comissão, para o Arquivo Nacional.
Foi um trabalho bastante desafiador, que esteve centrado, em sua primeira parte, na produção do capítulo 14 do relatório e na construção dos perfis dos militantes que foram mortos ou vítimas de desaparecimento forçado no Araguaia.
O trabalho com as entrevistas também foi muito interessante porque me permitiu ter contato com um riquíssimo acervo de falas e histórias de vidas de pessoas que contribuíram para a restauração da democracia no Brasil, mas que também foram perseguidas e bastante penalizadas por empreenderem esse movimento. Psicológica e emocionalmente, mexeu muito com os pesquisadores. Enquanto estive envolvida com as narrativas tristes desses crimes, eu sonhava todas as noites com pessoas sendo torturadas e assassinatos.
Folha de Franca – Fale da importância de uma Comissão Nacional da Verdade para a Democracia.
Maria Cecília Adão – A Comissão Nacional da Verdade deve ser percebida como parte de um importante processo de estabelecimento dos princípios da Justiça de Transição no Brasil. Assim como outros países que passaram por processos ditatoriais violentos, como é o caso da Argentina, o Brasil se empenhou, ainda que tardiamente, em restabelecer os princípios da verdade, da memória e da justiça. Estes são princípios basilares para a Justiça de Transição: a verdade envolve saber o que realmente aconteceu, a memória significa registrar, rememorar e ensinar sobre os fatos em questão, “para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça” e a justiça significa esclarecer e estabelecer a punição adequada para os perpetradores das graves violações de direitos humanos praticadas no período em análise.
Neste sentido, a CNV teve a grande importância de ser uma iniciativa do Estado brasileiro de reconhecer oficialmente sua responsabilidade nos eventos repressivos praticados por agentes estatais entre 1946 e 1988. E essa iniciativa foi ensejada na esteira de um trabalho de reconhecimento que já vinha sendo realizado pela Comissão de Anistia e pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP).
Folha de Franca – Como se desenrolou esse trabalho? Houve punições?
Maria Cecília Adão – Como uma comissão que tinha um período de existência delimitado por lei, a CNV elaborou seu trabalho entre os anos de 2012 e 2014, encerrando sua existência com a entrega de seu relatório final em 10 de dezembro de 2014 – entre dezembro de 2014 e meados de 2015 ela funcionou como estrutura temporária, ainda ligada à Casa Civil, para organização e entrega de seu acervo. No entanto, a CNV deixou como legado uma lista de recomendações que deveriam ser colocadas em prática a fim de consolidar seu trabalho.
A partir de 2016, com a derrubada da Presidente Dilma Rousseff, o espaço para o cumprimento destas recomendações foi sendo sistematicamente limitado e a estrutura que poderia dar continuidade ao trabalho da CNV – Comissão de Anistia e CEMDP – foi sendo desmontada ou tendo sua finalidade desvirtuada.
Atualmente, temos um cenário onde há uma crescente negação dos fatos apurados pela CNV e uma disputa pela narrativa e memória histórica desses eventos.








Ótimo texto, pauta necessária. A prata da casa valorizada na entrevista da historiadora Maria Cecília de Oliveira Adão (a UNESP-Franca formou gerações de pesquisadores antes e depois de ter os cursos de Geografia, Filosofia e Letras subtraídos pelo governo militar nos anos 70-80). Como foi bem colocado no texto, a História sempre foi “disputa pela narrativa” dos feitos no passado. Só lembrando que o governo repressivo da Ditadura Militar não é “período de exceção na História do Brasil”, o contrário me parece verdadeiro: desde a implantação da República, militares no poder coagem a democracia esmagando a liberdade como fizeram em Canudos e depois nos anos 30 com Getúlio. Queremos acreditar, mas sem a ingenuidade dos negacionistas, que a máxima de karl Marx se cumpra no fim da farsa contemporânea; e as rotundas que sustentam o bufão da Barra em Brasília caiam revelando a tragédia anunciada. Parabéns pela matéria, Vanessa, sua escrita articulada nos orgulha e inspira.